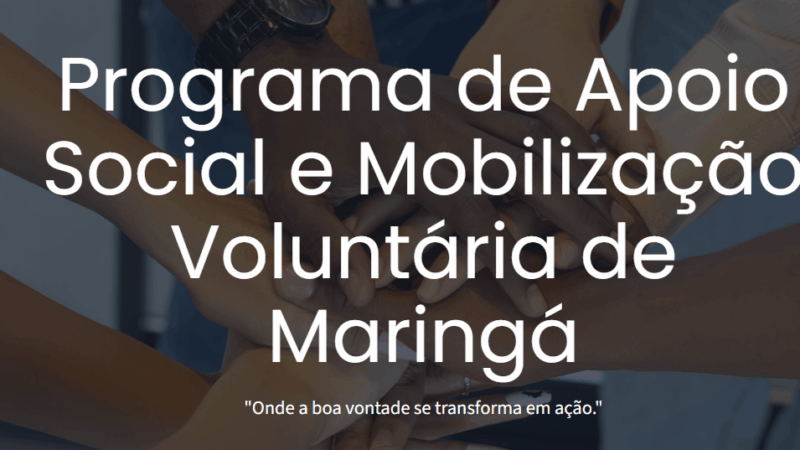Irresponsabilidade de quem?

Fernando Mânica*
Enquanto nos Estados Unidos, país mais atingido pela COVID-19, o número de infectados caiu cerca de 75% desde o início do ano, o Brasil bate, dia após dia, recorde de contaminações e mortes diárias. O motivo? Em terras ianques, mais de 130 milhões de doses foram aplicadas, enquanto que em terras tupiniquins, pouco mais de 13,5 milhões.
Uma das justificativas apresentadas pelo governo federal para ter recusado a compra da mesma vacina usada nos Estados Unidos foi contratual. A empresa farmacêutica Pfizer exigiu isenção de responsabilidade em caso de efeitos adversos decorrentes da vacinação. A pergunta, portanto, é: o Brasil deveria ter aceitado as cláusulas de não responsabilização da Pfizer?
A questão passa pela análise do que se pode chamar de ‘risco de desenvolvimento’. É dizer, caso algumas pessoas sofram efeitos indesejáveis de uma vacina fornecida pelo SUS, quem deve arcar com os custos de indenização? A empresa que desenvolveu o produto (e lucrou com isso) ou toda a coletividade beneficiada pela vacina?
A Constituição de 1988 traz a resposta. Isso porque, havendo um dano individual decorrente de uma ação estatal (no caso, a vacinação pública), a Constituição atribui a responsabilidade objetiva ao Poder Público. Sendo a vacina aplicada pelo SUS, a responsabilidade é estatal, não cabendo sequer o ajuizamento de ação indenizatória por cidadãos diretamente contra a indústria farmacêutica. A exigência da Pfizer ao governo brasileiro não traz, portanto, grande inovação, pois meramente veda que Poder Público ajuíze eventuais ações de regresso contra a empresa. Para dar segurança jurídica a essa hipótese, basta a aprovação de uma lei que contenha essa previsão, tal quais tantas outras leis já foram aprovadas para tratar do tema COVID-19.
Nesse ponto, deve-se ressaltar que exigências privadas externas não são privilégio de empresas que desenvolvem vacinas contra a maior pandemia da história. Ou alguém já esqueceu da Lei Geral da Copa, que previu a responsabilidade da União Federal por indenizar a FIFA no caso de qualquer dano sofrido pela entidade durante a realização da Copa do Mundo no Brasil?
Voltando à questão das vacinas, a cláusula de isenção de responsabilidade é regra geral em países desenvolvidos, que não possuem o mesmo regramento constitucional vigente no Brasil. Em relação à COVID-19, por exemplo, alguns governos simplesmente assumiram o risco da vacinação. Em outros países foram criados fundos públicos para arcar com eventuais indenizações. Em um terceiro grupo, acordou-se que a farmacêutica poderia ser processada por cidadãos lesados, mas seria ressarcida pelo Poder Público em caso de condenação. Num quarto conjunto de países foram contratados seguros, ainda que parciais, para cobertura de eventuais pedidos de indenização em face do Poder Público. Em todos os casos, houve, portanto, isenção de responsabilidade da indústria pelo risco de desenvolvimento das vacinas.
Diante da incerteza em relação a uma situação futura que pode gerar um impacto negativo, quatro são os tratamentos possíveis: aceitar o risco, mitigar o risco, transferir o risco ou evitar o risco. Trata-se de exercício clássico da gestão de riscos, no qual são medidos a probabilidade e o impacto da ocorrência de um evento adverso para a tomada de decisão quanto a seu tratamento.
Após sopesar a probabilidade e o impacto dos riscos e das oportunidades decorrentes da vacinação em massa, os principais governos do mundo tomaram a mesma decisão: comprar a vacina com isenção da responsabilidade da indústria. Ao decidir desta forma, evitaram outro risco de maior probabilidade e de maior impacto: o aumento da contaminação por COVID-19. Em trilha isolada, o Brasil optou por evitar os riscos da vacinação. Com isso, perdeu a oportunidade de diminuir as mortes pela COVID-19. O resultado está aí: 312 mil e contando.
*Fernando Mânica é doutor pela USP e professor do Mestrado em Direito da Universidade Positivo.