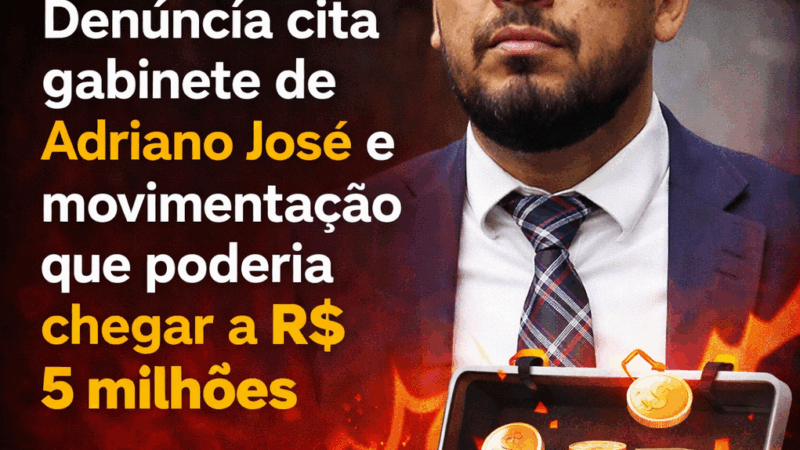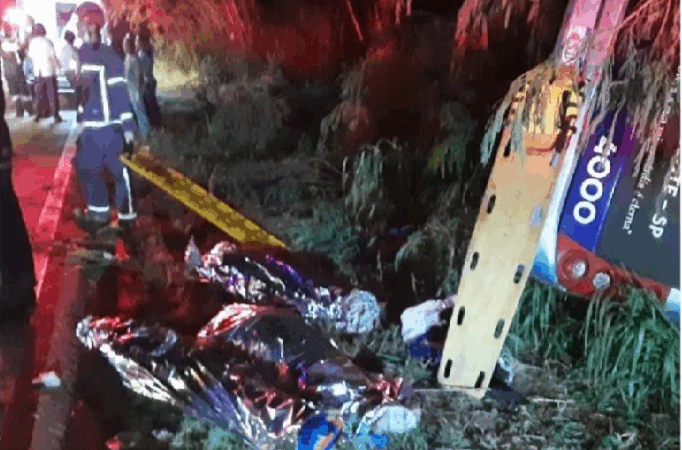O que eu jamais quis ser na vida

Daniel Medeiros*
Eu tinha onze anos quando fui sozinho, pela primeira vez, pegar o ônibus para ir à escola. Ingressara no quinto ano, primeiro ano ginasial da minha época, e meu pai já achava que eu era grande o suficiente para me virar por conta. Recebia o dinheiro justo para ir e vir, um “se cuide” e um “nada de medo”. E eu ia, cheio de pavor. Pavor de errar o ponto para descer, de ser molestado, de cair, de minha mãe estar longe e não ouvir os meus apelos. Durante a viagem, ficava ao lado do motorista, pertinho da porta e observava todos os movimentos que ele fazia. Foi assim que se formou, na minha cabeça, minha primeira ideia de uma profissão: motorista de ônibus. Por algum tempo, apreciei a ideia e povoei meu futuro com a fantasia de estar sentado naquela cadeira alta, diante do imenso parabrisas, o volante girando lentamente enquanto fazia a curva, trocando marchas secas e descansando a mão no câmbio enquanto encarava uma ladeira ou esperava o sinal ficar verde.
Até que conheci um amigo que tocava violão. Na vila onde eu morava, os meninos e as meninas se reuniam debaixo dos postes competindo com as mariposas até a hora que os pais mandavam entrar. O meu avisava com um assobio. Enquanto isso, ficávamos ouvindo o José Carlos tocar o seu violão verde escuro com tons de preto e cordas de nylon que faziam um barulho engraçado quando ele deslizava os dedos pelo braço do instrumento. Encantei-me. Pedi ao meu pai um violão, sabendo que seria difícil para ele, a vida eram moedas contadas para as coisas óbvias, como comer e vestir; o médico era o seu Davi, farmacêutico da comunidade, a escola era pública, a cabeleireira era minha mãe, as brincadeiras eram com as coisas que não serviam, onde haveria espaço para um luxo desses? Um violão?
Mas, em algum momento, passados uns quatro ou cinco anos, quando eu já havia esquecido desse desejo, meu pai compra um instrumento para mim. E diz: “Agora é com você. Se vira”. E lá fui eu atrás do José Carlos para ver se ele me ensinava a tocar, já sem saber se era isso que eu queria. O tempo havia passado para ele também, agora era aluno de Odontologia e não queria mais saber de ficar debaixo dos postes tocando sambas e boleros. Voltei pra casa meio desenxabido, sem saber o que fazer e com medo de ainda sofrer as consequências desse sonho tresloucado, sem talento e sem ajuda. Lembro-me eu, durante um tempo, quando meu pai estava em casa, eu dedilhava o violão, concentrado nas duas notas que aprendera meio ao léu. Depois, nem isso. Não seria músico, não seria motorista de ônibus. O futuro era um campo nublado, sem horizontes definidos.
Já adolescente, conheci uns amigos de meu irmão mais velho que me apresentaram algumas leituras. Eu já gostava de ler, mas só as coisas da escola, revistas, o dicionário Caldas Aulete, a enciclopédia dos bichos, a Delta Larousse, edição de 1969. Nunca esqueço do primeiro livro que esses novos amigos me emprestaram: “A idade da Razão”. Um livro vermelho, de capa dura, de uma coleção que vendia nas bancas. Eram os idos dos anos setenta e comecei a enxergar um mundo que não havia percebido ainda: o mundo que estava diante de mim o tempo todo, as calçadas, os muros, as árvores de raízes grossas, entre tantas coisas cuja existência eu não notava. Logo depois, veio uma biografia de Guevara, um livro de poemas de Neruda, um texto de Marcuse que não recordo exatamente qual foi mas que me impressionou muito, “As vinhas da Ira, de Steinbeck, “A Pérola, Ratos e Homens”, “A Educação pela Pedra”, do João Cabral, “Dentro da noite veloz”, do Gullar e “1919”, do John dos Passos, “A morte de Artêmio Cruz”, de Carlos Fuentes, e então eu sabia que estava perdido para sempre.
Pedi uma máquina de escrever para o meu pai e ganhei dele uma Olivetti verde clara que se tornou meu bem mais precioso por muito tempo. Tudo o que escrevi nela eu acabei perdendo e, até hoje, é uma das minhas maiores frustrações. O que será que eu sabia e pensava naqueles anos atormentados da adolescência e da descoberta do mundo? Só guardo sombras desse tempo que findou com o meu êxodo do Nordeste para o Sul, e um novo ciclo de angústias e incertezas.
Aos dezoito anos, pedi ao meu pai para me apresentar ao diretor de uma escola na qual ele estava terminando o supletivo do ensino médio. Eu havia acabado de entrar na universidade e falei, meio exibido, se na tal escola não haveria uma vaga para um aprendiz de professor. Logo eu que tremia as pernas para falar em público. Mas, os livros que tinha lido, todos eles pediam para serem compartilhados e aquele parecia ser um bom caminho. Poucos dias depois meu pai disse: “Vai lá falar com o diretor que parece que ele tem alguma coisa pra você.” Eu fui e continuo professor (e aprendiz) até agora, 39 anos depois desse momento insano e mágico.
Nunca quis ser outra coisa além do que indicava o meu desejo. E meu desejo nunca quis ser coisa diferente de um alguém fazendo algo para alguém: dirigindo, tocando, escrevendo, ensinando. Nas coisas que eu queria ser, na imagem na minha cabeça, sempre havia alguém olhando para mim ou para o que eu estava fazendo ou tinha feito. E o olhar que me dizia o que eu era não era o meu olhar, mas desse “outro” para quem eu dirigia minha atenção e minha intenção. Meu lugar de fazer coisas sempre esteve povoado de pessoas. Elas foram meu sustento e meu ganho, meu estímulo e meu destino.
Passado tanto tempo – a vida agora já não é um horizonte largo de margens indistintas -, continuo com a mesma sensação e o mesmo desejo, como um velho amigo que sempre esteve ao meu lado. Não tenho mais o violão, que quebrou em uma mudança; não tenho mais a máquina, emprestada a um colega de trabalho que saiu da cidade e levou-a consigo; os ônibus não têm mais o motor na frente nem câmbios altos sem embreagem. Tenho só essas lembranças das pessoas que eu quis ser enquanto eu me tornava a pessoa que eu sou. E confesso possuir um sentimento de orgulho indisfarçável, uma conquista que não me furto de contar: se eu fosse apresentado a eles e eles a mim, creio que passaríamos um bom tempo debaixo daqueles postes, cantando uns sambas e jogando conversa fora, falando dos dias vividos e dos sonhos por haver, como velhos companheiros.
*Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica e professor no Curso Positivo.
daniemedeiros.articulista@gmail.com@profdanielmedeiros
**Artigos de opinião assinados não reproduzem, necessariamente, a opinião do Curso Positivo.